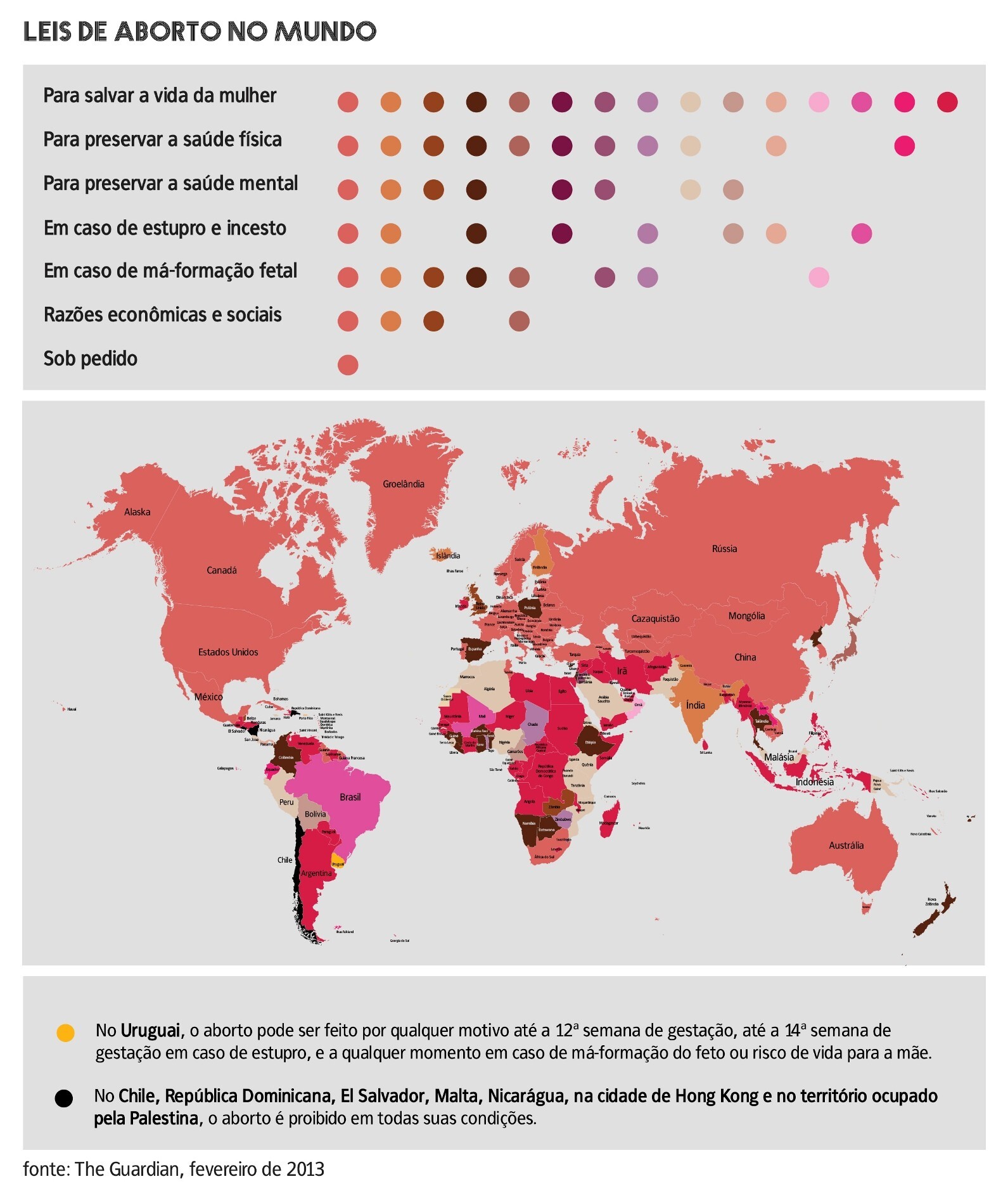Da Agência Pública – Cerca de 7% dos casos de estupro resultam em gravidez; pela legislação brasileira a vítima dessa violência tem direito a abortar mas 67,4% das mulheres que passaram por esse sofrimento não tiveram acesso ao serviço de aborto legal na rede pública de saúde
É quase meio-dia de uma quinta-feira escaldante de fevereiro quando o ginecologista e obstetra Jefferson Drezett, diretor do serviço de aborto legal do Hospital Pérola Byington, bate à porta de um quarto no quinto andar do prédio localizado na rua Brigadeiro Luis Antônio, centro de São Paulo.
O médico gira a maçaneta e através da fresta pede licença para entrar acompanhado da reportagem da Pública. Uma mulher de camisola cor-de-rosa do hospital está deitada sozinha no quarto espaçoso com uma janela ampla e poucos objetos pessoais além de uma garrafa de água e uma revista feminina na cômoda ao lado da cama. A televisão está ligada em um programa matinal de variedades.
“Ah não, esse programa é uma porcaria!”, diz o médico, que desliga o aparelho.
A paciente ri, timidamente, e o médico se aproxima, apoiando as mãos na cama, enquanto pergunta como vai a recuperação, se ela sente alguma dor. Ela não tem queixas.
“Esta é a repórter que te falei ontem, lembra? Se você sentir que ela está te incomodando, se não estiver gostando das perguntas, pode terminar a entrevista. Fala só o que você quiser falar”. instruiu Jefferson.
A. é uma mulher de 29 anos alta e bonita, de cabelos castanhos e lisos presos em um rabo de cavalo, unhas compridas e bem cuidadas. Os olhos amendoados ficarão úmidos entre uma pergunta e outra mas ela terá a coragem de levar sua história adiante até o fim.
Caminhamos até o consultório ao lado e sentamos frente a frente. Em meio a longas pausas, ela conta que está ali há três semanas, sozinha, entre idas e vindas ao hospital. Não, ela não tem nenhum acompanhante durante as internações. Apenas duas amigas sabem que A. está hospitalizada porque são elas que estão tomando conta de sua filha de 4 anos. O filho mais velho, de 12, passava as férias na casa da avó no interior.
As amigas, porém, não suspeitam o real motivo pelo qual A. está em um quarto do Pérola Byington. Ninguém sabe que, na véspera, A. interrompeu uma gestação de quase quatro meses. Para elas, A. disse que trataria de um problema na tireoide.
Os amigos, a família e o ex-marido tampouco sabem que, em uma noite de outubro passado, quando retornava do trabalho à noite, sozinha, um homem de calça jeans, blusão de moletom e boné por baixo do capuz cruzou seu caminho na mal iluminada passarela que ela tinha que atravessar todas as noites ao voltar do shopping onde trabalhava como vendedora, na zona oeste da capital. Ele a ameaçou com uma faca ou canivete, arrastou-a para debaixo da ponte e a estuprou. Depois disse que ficasse calada, sabia que ela passava sempre por ali.
Ela voltou para casa, tomada de medo e dor. Estava só com as duas crianças e nunca pensou em falar nada para a família ou amigos. Sentia vergonha do que aconteceu; não procurou o serviço de saúde, nem registrou boletim de ocorrência. Começou a faltar ao serviço. Ia dois dias, faltava outro – tinha medo de atravessar a passarela. Pediu demissão semanas depois. Só queria esquecer aquilo tudo.
Em novembro, a menstruação de A. não veio. O teste de farmácia deu positivo e ela procurou o Hospital Universitário da USP, que fica perto de sua casa. O exame de sangue confirmou a gestação. Ela tinha certeza que só poderia ser resultado da violência que sofreu – e, pela primeira vez, contou a alguém o que tinha acontecido. Em resposta, ouviu da equipe do hospital que não podiam fazer nada, que voltasse para casa.
Ninguém sequer mencionou que ela tinha o direito legal ao atendimento “emergencial, integral e multidisciplinar” em qualquer hospital do SUS, público ou conveniado, e ao encaminhamento aos serviços de referência para o caso de desejar abortar, como define a lei 12.845, sancionada em agosto de 2013 pela presidenta Dilma Rousseff.
Embora desde 1940 o artigo 128 do Código Penal Brasileiro isente de punição o médico que realizar aborto para salvar a vida da gestante ou se a gravidez resultar de estupro – e a partir de 2012, também em caso de anencefalia do feto por decisão do Supremo Tribunal Federal – foi a lei 12.845 que definiu os caminhos para viabilizar a interrupção da gestação dentro dos permissivos legais. Desde outubro de 2013 (90 dias após a publicação do texto), as duas normas técnicas do Ministério da Saúde, Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes e Atenção Humanizada ao Abortamento, que orientam o atendimento dos profissionais de saúde no serviço público, também passaram a ter valor e emergência de lei. O objetivo é padronizar a assistência e os procedimentos a serem adotados nesses casos.
A., porém, jamais tinha ouvido falar de aborto legal, feito gratuitamente na rede pública de saúde brasileira. Só descobriu que existia o serviço ao encontrar reportagens como esta na internet, após a informação errada que recebeu do Hospital Universitário da USP. Foi então que ligou para Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, perguntando se havia algum hospital que pudesse atendê-la perto de sua casa, no Jaguaré. Foi orientada a procurar o Hospital Vila Nova Cachoeirinha, onde foi atendida como manda a Norma Técnica. Ali lhe explicaram que tinha três opções: interromper a gestação; levá-la adiante e ficar com a criança; ou dar à luz o bebê e deixá-lo para a adoção.
Nenhuma outra opção além de não ter aquele filho tranquilizava A. Era totalmente diferente de quando se descobriu grávida de seu menino e de sua menina; agora, não sentia nada, só queria “tirar e acabar”: “Eu planejei meus dois filhos, esse não. Nunca me vi como mãe dessa criança. Sei que toda vez que olhasse para esse bebê ia lembrar tudo, eu não podia maltratar essa criança”, diz, sem conter as lágrimas.
A. só conseguiu exercer seu direito ao aborto legal depois que o Hospital Vila Nova Cachoeirinha encaminhou-a para o Pérola Byington – a justificativa foi que o médico responsável pelo serviço de aborto legal no Vila Nova Cachoeirinha estava de férias. Quando chegou ao Pérola, a gestação estava com mais de 12 semanas e não era mais possível utilizar o procedimento mais seguro: a aspiração intra-uterina.
Para complicar, A. faz parte da pequena porcentagem de mulheres (3%) que têm resistência ao Misoprostol, utilizado para estimular a interrupção da gestação, o que prolongou sua estada no hospital. Ao final da nossa entrevista, fala da saudade das crianças (ela chora sempre que fala dos filhos), da vontade de ir para casa e de tentar superar a violência que sofreu. “Não dá para tirar da cabeça. Agora talvez eu consiga, pelo fato de não ter mais a gravidez”, diz.
Mais da metade das vítimas não são atendidas
Cerca de 7% dos casos de violência sexual resultaram em gravidez em 2011. O índice foi estabelecido em um estudo divulgado em abril, feito pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), com base em dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do SUS de 2011.
A porcentagem parece pequena mas revela um número gigantesco de brasileiras que enfrentam essa dolorosa situação. Segundo o 7º Anuário de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), publicado em novembro de 2013, foram registrados 43.869 estupros no Brasil em 2011 – e especialistas dizem que o número real de casos é bem maior, tendo em vista que raramente a vítima de violência sexual notifica a ocorrência. No mesmo ano, foram realizados 1.504 abortamentos legais no Brasil na rede pública de saúde. No ano seguinte, foram 1.625 procedimentos e, em 2013 (até novembro), 1.400. Os dados são do Ministério da Saúde e foram obtidos através de lei de acesso à informação; a transparência não é o forte em relação aos dados públicos sobre o aborto.
O estudo realizado com as informações do Sinan revelou, porém, que 67,4% das mulheres grávidas em decorrência de estupro em 2011 não tiveram acesso ao serviço de aborto legal.
“Isso leva a imaginar que algumas provocaram a interrupção de maneira clandestina. Em uma clínica, com medicamentos, ou fazendo uso de procedimentos invasivos, como agulha de tricô, soda cáustica… Aí vão outros métodos abortivos que muitas vezes esterilizam a mulher, quando não levam à morte”, alerta a socióloga Myriam Mastrella, pesquisadora da organização ANIS (Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero), baseada em Brasília.
Há quase 20 anos à frente do serviço de aborto legal do Pérola Byington, que atende em média 130 casos por ano, Jefferson Drezett não hesita quando perguntado quais os sentimentos mais comuns entre as mulheres que optam pelo aborto legal: “O repúdio aparece para mais ou menos 90% das mulheres e é intenso. O outro, é a clara associação de que a gravidez de um estupro viola o ‘meu’ direito de decisão pela maternidade. ‘Eu’ não tive nenhuma escolha. É uma gestação forçada”, relata o médico.
Segundo ele, algumas mulheres preferem “resolver no sistema clandestino, principalmente quando têm recursos financeiros para fazê-lo com segurança sem ter que passar por tantas perguntas ou pela possibilidade de ser tratada como uma mentirosa”, explica. Também há “uma parte muito pequena das mulheres [que] desiste do aborto”, diz o médico. “Elas perdem a coragem ou escutam outra opinião e resolvem não fazer”, conta.
Ao longo dessa apuração, foi possível concluir que a falta de orientação está entre os principais obstáculos ao uso do aborto legal – o caso de A. não é exceção.
Lista secreta de serviços públicos
Segundo o Ministério da Saúde, o aborto legal “pode ser realizado em todos os estabelecimentos do SUS que tenham serviço de obstetrícia. O acesso a estes atendimentos por meio do encaminhamento das pacientes, via centrais de regulação, aos serviços especializados. Ou seja, a mulher atendida em um hospital ou unidade de saúde é direcionada ao centro de referência que deve seguir as normas técnicas de atenção humanizada ao abortamento do Ministério da Saúde e a legislação vigente. Hoje são 65 serviços disponíveis, em 26 Estados”, escreveu a assessoria de comunicação do Ministério em resposta à nossa solicitação.
Mas o Ministério se nega a fornecer a lista dos estabelecimentos preparados para esse atendimento, o que faz com que as vítimas dependam inteiramente do encaminhamento correto dos hospitais em que são socorridas, que muitas vezes falham, como aconteceu com A. em um hospital universitário na maior cidade do país. “Não passamos essa relação para preservar a integridade e a segurança das mulheres e dos próprios profissionais de saúde atuantes nessas unidades”, foi a resposta do Ministério de Saúde por e-mail quando pedimos a lista.
Uma explicação surpreendente até para os profissionais de saúde, como descobrimos ao relatar o ocorrido ao chefe do serviço do Pérola Bygton: “Se isso que você está dizendo é verdadeiro, seria algo entre o patético e o risível. Com a dificuldade geral que as mulheres brasileiras têm, você ter esses serviços e não divulgá-los por segurança? Segurança de quem? Isso deveria estar na página principal da Saúde da Mulher, do Ministério da Saúde, das Secretarias da Saúde, para que as mulheres possam saber onde podem ser atendidas. Aqui, o Hospital Pérola Byington fica na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 683, e ele faz abortos legais”, anuncia Drezett.
O fato é que casos como o do (mau) atendimento de A. no hospital da USP continuam acontecendo diariamente com outras tantas brasileiras, embora em total desacordo com as normas técnicas do Ministério da Saúde e com a lei nº 12.845, como observa a advogada Beatriz Galli, integrante das comissões de Bioética e Biodireito da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio Janeiro (OAB-RJ), e assessora de políticas para a América Latina do Ipas – organização não governamental que atua globalmente na áreas de direitos humanos, sexuais e reprodutivos das mulheres.
“A responsabilidade do serviço público no atendimento ao aborto legal não pode acabar no momento da negativa. O serviço precisa garantir transferência imediata para outro hospital que atenda. A questão da mulher precisa ser resolvida na mesma hora. Senão, ela fica literalmente sem acesso. Já não basta a falta de informação, que é geral. Não existem campanhas sobre o serviço, os endereços dos hospitais não são divulgados. Olha que coisa mais sem pé nem cabeça: é uma questão de interesse público”, diz a advogada.
Quando há risco de vida para a gestante ou no caso de anencefalia do feto são exigidos dois pareceres técnicos assinados por dois médicos diferentes que serão analisados por um juiz encarregado de autorizar ou não a realização do procedimento a qualquer momento da gestação. Em caso de estupro não é preciso autorização judicial para interromper a gestação até a 20ª semana se o peso fetal for menor do que 500 gramas. De acordo com a Norma Técnica sobre Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, a mulher não precisa nem apresentar boletim de ocorrência ao serviço de saúde para ter direito ao atendimento.
Jefferson Drezett conta que quase 40% dos abortos em caso de estupro realizados no Pérola Byington não têm boletim de ocorrência policial. Prova disso é o próprio prontuário de A., “do tamanho de um elefante”, como comentou Drezett ao folheá-lo na frente da reportagem. São páginas e páginas de exames, pareceres médicos e cápsulas vazias de Misoprostol (medicamento obstétrico utilizado para interromper a gestação) coladas a relatórios com fita crepe, encadernadas em uma pasta do hospital, com mais ou menos um dedo de espessura.
“Você está vendo algum boletim de ocorrência aqui?, pergunta o médico. “Não precisa. A mulher que entra por esta porta é cidadã e ninguém aqui pode tratá-la como mentirosa. Quando existe é ótimo, não estou dizendo que não seja desejável. Se a mulher está disposta a fazê-lo – ou já o fez — a gente pede uma cópia, coloca no prontuário”, diz.
Ele explica que a decisão de não exigir o boletim de ocorrência foi tomada porque nem sempre a vítima de um estupro tem condições, emocionais e de segurança, para registrar queixa contra o agressor. Por exemplo, quando o crime é cometido por alguém da própria família ou envolve membros do crime organizado.

“É difícil para a mulher aceitar ter um filho concebido em um ato extremamente violento”: Irotilde Gonçalves, pioneira do serviço de aborto legal
O atendimento no Pérola Byington é feito nos moldes da Norma Técnica de Atenção Humanizada ao Abortamento, que orienta os atendimentos na rede pública, e da qual Jefferson Drezett é um dos autores. A equipe responsável por esses atendimentos é multidisciplinar, composta por obstetras, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, uma necessidade constatada durante o funcionamento do primeiro serviço público de abortamento legal, criado em 1989, no Hospital Municipal Arthur Ribeiro Saboya (conhecido como Hospital do Jabaquara, em São Paulo), pelo médico obstetra Jorge Andalaft Neto e pela assistente social Irotilde Pereira Gonçalves.
O primeiro acolhimento é feito pelo serviço social, que escuta a história da paciente e busca detalhes da violência sexual. “Essa etapa tem a função de ouvir e avaliar quais são os riscos que essa mulher está correndo, porque tem adolescente que está denunciando o pai ou está denunciando o chefe de tráfico da favela. Ela precisa ser abrigada por que, se ela voltar para casa, corre o risco de morrer”, exemplifica o coordenador do Pérola Byington.
O serviço social também verifica se a paciente precisa fazer exames para confirmar a gravidez. Na sequência, a mulher é atendida por uma psicóloga que, segundo Drezett, não é “um detector de verdade ou mentira”. “É muito fácil imaginar que essa mulher já tenha motivos de sobra para precisar de assistência psicológica por ter sofrido um estupro. Dobre tudo isso porque, desse estupro, ela está grávida. Aumente ainda mais um pouco, porque além de ela estar grávida, ela ainda interrompeu uma gravidez que não recebeu nenhum tipo de olhar acolhedor do ponto de vista social. Ela tem condições, naquele momento, de tomar aquela decisão sozinha? Que sofrimento ela tem? Ela pensa em suicídio? 25% das mulheres aqui têm ideias suicidas persistentes. Não estou falando que tentaram o suicídio, mas pensam no suicídio como uma forma de resolver ou sair de uma situação muito complicada”.
Por fim, vem o atendimento médico, que checa os possíveis problemas de saúde da paciente e determina o período exato da gestação. “Estabelecemos a compatibilidade entre o tempo de gravidez e o tempo da violência. Ou seja, um estupro não pode ter ocorrido há quatro semanas e a gravidez ter 18. Então, é uma gravidez que precede o estupro. A mulher pode até achar que decorreu do estupro, isso é muito comum. Foi estuprada e acha que a gravidez é do estupro, mas não é. É do marido, do namorado, do ficante ou de outro parceiro, mas não é do estuprador. A gente tem que provar que não é uma gestação consentida e, em alguns casos, até fazemos um exame de DNA intraútero para confirmar essa distinção”, esclarece o obstetra.
Até a 12ª semana de gestação, a interrupção é feita por aspiração intra-uterina, que pode ser manual ou elétrica. É um procedimento cirúrgico rápido e seguro, “dura menos do que cinco minutos”, de acordo com Drezett. Depois desse período, o método mais seguro é induzir a interrupção da gestação por meio de medicação. No Brasil, usa-se o Misoprostol, de distribuição controlada pelo Ministério da Saúde e popularmente conhecido como Cytotec.
Objeção de consciência
A advogada Beatriz Galli explica que, antes da promulgação da lei 12.845 em 2013, as normas ficavam sujeitas às interpretações dos servidores da saúde o que, na prática, significava que qualquer profissional contra o procedimento poderia criar obstáculos para sua realização. “Com a lei, existe uma obrigação do gestor de colocar um servidor que não tenha questões contra o aborto. Então, passamos a ter mais ferramentas para garantir e cobrar das autoridades serviços como profissionais qualificados e que não tenham questões de foro íntimo a respeito”. Galli se refere à objeção de consciência prevista no Código de Ética Médica brasileiro, que dispensa o médico de “prestar serviços profissionais a quem ele não deseje”, e o permite “recusar a realização de atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência”.
A profilaxia da gravidez é outra prática que a lei tornou obrigatória em todo o SUS: mulheres que sofreram violência sexual devem ser atendidas o mais rápido possível para que uma gestação indesejada seja evitada. Além disso, as vítimas de violência sexual devem ser informadas de seus direitos, inclusive do direito ao aborto previsto em lei. Lembrando que, de acordo com a legislação, violência sexual é qualquer forma de atividade sexual não consentida.
A lei, considerada “um divisor de águas” pela advogada, ainda determina que todo serviço público de saúde deve prestar o atendimento à vítima de violência sexual, ou seja, ele não se restringe aos 65 hospitais e maternidades credenciados no atendimento de referência. Mas casos como o de A. mostram que as mulheres continuam enfrentando problemas para exercer seus direitos na prática, uma realidade que constatamos em diversas situações e locais no país.
“O filho é seu”, ouve a vítima de estupro na delegacia da Mulher
O número de estupros registrados no Rio de Janeiro – 5.923 casos em 2012 – só fica atrás de São Paulo, que notificou 12.886 casos naquele ano, segundo o 7º anuário da Fundação Brasileira de Segurança Pública. Ainda assim, há somente um serviço de aborto legal no estado. Seja lá onde more, para ser atendida a vítima de estupro precisa ir até o Instituto Municipal da Mulher Fernando Magalhães, em São Cristóvão, na capital.
Uma dificuldade que na prática inviabiliza o atendimento à boa parte das gestantes, como observa Adriana Mota, feminista “de formação” e ex-subsecretária de políticas para as mulheres do Estado. “Muitas sequer chegam à unidade de atendimento. Ou o que pode acontecer é ela ouvir em uma primeira tentativa ‘não é aqui, precisa ir a outro lugar’ e desistir. A secretaria estadual de saúde é uma meleca, a do município é outra meleca, e as mulheres aqui no estado do Rio de Janeiro não têm onde buscar ajuda. É uma fantasia. Se você ligar, perguntar aos hospitais públicos e eles disserem que realizam aborto legal, é mentira. Só a Fernando [Magalhães] faz, e ainda muito pouco”, afirma.
Encontramos Adriana em um café do segundo andar do Centro Cultural Banco do Brasil, no centro do Rio. Algumas semanas antes, ela tinha entregado o cargo a pedido do governador Sérgio Cabral, que por divergências eleitorais havia rompido com o PT, o partido de Adriana. Em seu lugar, entrou a evangélica Marta Dantas, ligada ao partido Solidariedade.
Para Adriana, não basta apregoar a existência do abortamento legal para que “um monte de mulheres apareçam” para utilizar o serviço. “Não vai [aparecer um monte de mulheres]. Porque é difícil ir até a unidade de saúde, porque se ela for vai ter que contar para a família o que aconteceu, vai tomar uma série de remédios que têm efeitos colaterais, enfim, é difícil revelar uma situação de estupro”, diz.
Anualmente, são realizados em média apenas oito procedimentos de aborto legal no Hospital Fernando Magalhães; a maioria, de gestações decorrentes de estupro. Quem nos dá essa informação é a pediatra Carmen Athayde, diretora geral da unidade, que trabalha há 19 anos no hospital, onde o serviço de aborto previsto em lei existe desde 1989.
Carmem foi a única porta-voz no estado com quem a reportagem conseguiu conversar oficialmente. A Secretaria Estadual da Saúde não autorizou o contato com outros profissionais do serviço e, horas antes do horário combinado, cancelou uma entrevista com a ex-chefe de obstetrícia do Fernando Magalhães, que hoje trabalha em outra maternidade pública do Rio de Janeiro e disse que não poderia falar sem a autorização da secretaria.
A pediatra Carmen nos recebeu na sala da diretoria, adornada por um retrato a óleo do médico que fundou o hospital, batizado em sua homenagem. Este foi o único ambiente do hospital a que a reportagem teve acesso – além da recepção, à qual se chega subindo as escadarias diante da entrada principal. A médica estava acompanhada de Fátima Inês, chefe de enfermagem do serviço de abortamento legal.
“Vocês consideram oito procedimentos ao ano um bom número?”, perguntamos às duas.
“Eu acho um número pequeno”, responde Fátima. “No Pérola, em São Paulo, eles fazem em média quatro por semana…”, questionamos. “Por semana?”, espanta-se Carmen. “Aqui também recebemos encaminhamento do estado inteiro, muito de Niterói, e Baixada Fluminense. Mas é um número pequeno, e um número menor ainda em relação aos casos de violência sexual deste estado”, admite.
Carmen dá dois motivos para o número reduzido de procedimentos: falta de divulgação e informação a respeito do serviço; e aumento da distribuição de contracepção de emergência, realizada desde 1998. “O atendimento precoce é muito importante. É mais importante ainda que um serviço de aborto. A mulher deveria não precisar do aborto. Conseguimos evitar a prática com a profilaxia de emergência”, argumenta.
Mas as coisas não são bem assim, como demonstra a história que ela nos conta, que havia acontecido no dia anterior. “Chegou uma moça aqui, grávida já. Acredito que ela não teve acesso à informação de que podia ter contracepção de emergência. Ela é de Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense, um município muito grande. Estava com doze semanas, fazemos aqui até 18 semanas. É uma decisão técnica que tomamos, decidimos que era mais seguro. E quanto mais cedo, mais fácil, né? Ela contou que esteve na delegacia de Caxias e disse que foi o delegado, mas não importa quem foi… Foi alguém que atendeu ela na delegacia. Essa pessoa disse que não podia fazer nada por ela. E ela disse: ‘mas eu tô grávida!’. ‘O filho é seu’, responderam. Isso em 2014! E isso aqui não é o interior do Piauí, não! E foi em uma delegacia da mulher. Ela teve sorte e persistência de conseguir chegar aqui”, diz Carmen. “A maioria delas acha que precisa ter aquele filho de um estupro, elas têm muita vergonha. Não contam pra ninguém quando são violentadas, e pra ninguém mesmo quando se descobrem grávidas da violência. E se sentem muito culpadas, é um sentimento geral.”
86% de casos não atendidos no Rio de Janeiro
O Rio pode até não ser o interior do Piauí – estado, aliás, que também só tem um serviço referenciado de atendimento aborto legal, segundo o Ministério da Saúde –, mas é fato que um percentual significativo dos profissionais, tanto da saúde como da segurança pública, não coloca em prática o atendimento à mulher em situação de violência (sexual ou não) previsto em lei. É o que comprovou uma pesquisa coordenada pela assessoria parlamentar do CFEMEA, divulgada em março deste ano, que ouviu 432 profissionais de ambos os setores em junho de 2013 no Estado do Rio de Janeiro: o saldo de não atendimento do serviço de aborto legal às mulheres vítimas de estupro chega a 86%. Apenas 5% dos profissionais da saúde disseram realizar abortamento legal em caso de estupro; 70% afirmaram que a prática não compete à instituição e 9% responderam que “mais alguém realiza”. Sobre a contracepção de emergência após a violência sexual, o mesmo estudo apontou que 35% dos profissionais fornecem a “pílula do dia seguinte”; 25% responderam que “mais alguém” distribui o medicamento e 26% afirmaram que a prática não compete à instituição.
Nem mesmo a orientação da vítima de estupro a respeito do direito à interrupção voluntária da gestação, caso ela aconteça, está garantida. De acordo com o estudo, 56% dos entrevistados afirmaram informar a mulher; 36% disseram não fornecer esse esclarecimento; 19% dizem “que alguém realiza” e 17% acreditam que não é papel do serviço de saúde prestar esse tipo de orientação.
A assistente social carioca Rejane Farias escolheu o atendimento ao aborto legal no Fernando Magalhães como objeto de estudo de seu projeto de mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante o mês de fevereiro, ela empreendeu pesquisas de campo no hospital, entrevistando os funcionários. Identificou três problemas que atrapalham o bom funcionamento do serviço: objeção de consciência; falta de divulgação do serviço; e poucos cursos de treinamento e qualificação para atender mulheres em situação de violência em conformidade com a legislação .
Nesse último quesito, aliás, pesquisa realizada pelo CFEMEA, no ano passado já havia constatado que 85% dos profissionais da saúde no estado do Rio de Janeiro nunca haviam participado de cursos de formação ou capacitação sobre questões de gênero e violência contra a mulher. “Se o profissional não é sensibilizado pela causa, se recusa a fazer”, acredita a pesquisadora, lembrando que o desconhecimento do serviço e da lei leva o servidor a se abster por medo de processo por apologia ao aborto. Há, também, a opção moral e religiosa dos funcionários que pode influenciar a maneira como cada um deles recebe a paciente (na pesquisa, 42% dos servidores se declararam evangélicos; 38%, católicos; e 13%, espíritas kardecistas).
Por isso, o atendimento no Fernando Magalhães segue a lógica de “na prática, a teoria é outra”, diz Rejane: “Qualquer profissional deveria atender [os casos de aborto legal], é um serviço de referência. Mas fica a cargo do chefe da obstetrícia, que é o Marcelo Guerra, que não está lá todos os dias. Se a mulher chega em outro horário, tem que aguardar o plantão seguinte. Imagine se a paciente que precisa ‘voltar outro dia’ – já vivendo a situação traumática de enfrentar uma gravidez decorrente de um estupro – veio de um município fora da Grande Rio e não tem onde ficar na capital? Ou não tem como voltar?”, questiona.
Até mesmo a aplicação correta do Misoprostol para interromper a gestação (em doses repetidas a cada 12 h em um ciclo de 48 h com três a cinco dias de intervalo, segundo orientação da Norma Técnica) fica prejudicada. “Às vezes, o medicamento não surte resultado e é necessário aumentar dosagem. Se o profissional do plantão seguinte não for sensibilizado, vai recusar”, exemplifica Rejane, lembrando que esses relatos “difíceis de comprovar” foram feitos pelos profissionais.
Do lado do hospital, a direção garante que nenhuma mulher que procura o serviço de aborto legal fica sem atendimento, mas assume que não há nenhuma equipe destacada para receber os casos, além do chefe da obstetrícia. “Desde o início, fizemos questão: não temos um serviço de aborto. Não tem um médico que faz só aborto, é uma equipe. É um trabalho da casa, interno. Lógico que a gente sabe que tem alguns profissionais que não criam objeção nenhuma e outros criam”, admite Carmen.
Ela insiste que o hospital “treinou muito” todos os profissionais da unidade, mas que sempre tem alguém – como em toda equipe – que se adequa melhor a outro trabalho. “Da mesma maneira que tem médico que prefere ficar no centro cirúrgico e, o outro, no ambulatório, tem aquele profissional que, seja homem, seja mulher, tem mais jeito [para o serviço de aborto legal]. [Mas] o chefe do serviço não pode ter objeção. O Marcelo Guerra é o chefe da obstetrícia, ele não pode ter objeção”.
O que não a impede de comentar casos de objeção de consciência entre o corpo profissional do Fernando Magalhães, como o de uma médica que realiza ultrassonografias e se recusa a fazer o exame quando sabe que a paciente é do serviço de aborto legal. “Ela é muito religiosa…”, diz.
“Jogados às traças”
Infelizmente, o estado do Rio de Janeiro não é um caso isolado. Durante uma reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em dezembro de 2012, a ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, afirmou que os serviços de aborto legal no Brasil “estão absolutamente jogados às traças”. Na ocasião, ela disse que esta seria uma das prioridades de sua pasta na área da saúde.
A declaração foi veiculada pelo jornal Folha de S.Paulo, em junho do ano passado, quando Menicucci se manifestou em nota dizendo que “estudos e pesquisas apontam para um desvio de rota dos serviços que atendem às mulheres vítimas de violência sexual”. Segundo a ministra, isso seria reflexo da centralização do atendimento e da falta de equipes multidisciplinares para prestar o atendimento em outros hospitais. “Há uma centralização que leva a que as mulheres estupradas que fazem o boletim de ocorrência numa delegacia sejam encaminhadas todas ao Pérola Byington, complicando muito o acesso das vítimas”, afirmou a ministra.
Em entrevista à Pública, Jefferson Drezett confirmou a declaração da ministra: “Eu tenho conhecimento de uma série de serviços que só estão na lista [do Ministério da Saúde], mas que, na prática, não realizam o serviço”.
De acordo com a ginecologista Verônica Alencar, coordenadora do programa Superando Barreiras, criado em 2007 pelo CEMICAMP (Centro de Pesquisas Materno-Infantis de Campinas) em parceria com o Ministério da Saúde para estimular o atendimento integral à mulher que sofre de violência sexual, existem 37 hospitais (baixe aqui a lista completa) onde o serviço de aborto legal está estruturado e funcionando no Brasil.
O programa Superando Barreiras também citou três cidades onde o serviço poderia não estar funcionando: Curitiba, Fortaleza e Rio de Janeiro. O critério utilizado é a ausência de notificações no Sinan, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, que deve ser notificado pelos serviços de referência sempre que uma vítima de violência sexual é atendida. Além dos dados do paciente, a ficha a ser entregue ao Sinan deve informar as consequências da agressão para as mulheres; uma delas é o aborto: “De Fortaleza não temos informação de como as coisas funcionam. Dizem que fazem, mas não temos dados. Curitiba também diz que faz, mas não há dados no Sinan. Não sabemos se lá cumprem a norma técnica, se colhem vestígios”.
Para piorar, nem mesmo todos os estabelecimentos que constam da lista do Superando Barreiras estão funcionando. É o caso do Hospital Municipal Arthur Ribeiro de Saboya, localizado na zona sul da cidade de São Paulo, pioneiro na implantação de programas de atenção à violência sexual contra mulheres, incluindo o aborto legal. Embora o Hospital do Jabaquara, como é conhecido, tenha realizado 337 atendimentos para interrupção da gestação entre 1989 e 2007 (68% por gravidez resultante de estupro), ao visitar o local, em fevereiro de 2014, acabamos descobrindo pela assistente social Irotilde Pereira Gonçalves, uma das fundadoras do serviço de abortamento legal, que “o serviço está em reforma há dois anos”. A informação veio depois da entrevista concluída, apenas quando pedimos para conversar com a equipe especializada.
Fomos ainda a Campinas, no interior paulista, conversar com Arlete Fernandes, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e coordenadora da equipe de atendimento especial às mulheres vítimas de violência sexual do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), que fica dentro das dependências da universidade e também consta da lista do Superando Barreiras.
O hospital, considerado referência na região de três milhões de habitantes, realiza o procedimento do aborto legal em caso de estupro desde 1994. No início, esse era o único tipo de assistência disponibilizado pela unidade a mulheres que haviam sofrido violência sexual. Depois, o atendimento se tornou mais abrangente. “Com o tempo, percebemos que a maioria delas chegava até nós após 20 semanas de gestação [limite para a realização da interrupção da gravidez], quando não podíamos fazer mais nada. Então criamos o Serviço de Atendimento de Emergência, pensando nas prevenções que poderíamos levar até essas mulheres”, conta a médica.
De 1994 a 2012, segundo dados da própria Arlete, o CAISM recebeu, ao todo, 192 solicitações de interrupção de gravidez ocasionada por estupro. Destas, 112 (58,3%) foram atendidas, 44 (23%) foram barradas por contraindicação da equipe multidisciplinar, 18 (9,3%) não foram realizadas porque a mulher decidiu assumir a gestação e outras 18 não foram levadas adiante também pela própria paciente, que abandonou a avaliação.
Portanto, no período em questão, foram realizados em média 6 abortos por ano no hospital, número que parece pequeno quando comparado ao do Pérola mas que, segundo Arlete, justifica-se pelo trabalho de contracepção de emergência realizado pela instituição desde o início do programa de atendimento à vítima de violência.
“Aborteiras”: o peso do preconceito
No início de 2009, uma menina de nove anos e um 1,30m de altura, residente em Alagoinha, no agreste pernambucano, procurou cuidados médicos em Pesqueira, município vizinho, porque estava com enjoos e vômitos. No primeiro atendimento, veio o diagnóstico devastador: ela estava grávida de gêmeos. Mais tarde, a menina contaria que há tempos sofria abusos sexuais do padrastro. Com sintomas de subnutrição e correndo risco de vida, foi transferida para Recife, internada no Instituto Materno Infantil (Imip), mas só teve o procedimento realizado após ser enviada para o Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), um dos hospitais credenciados a realizar o serviço de aborto legal no estado.
Apesar de ser um caso claro de estupro, não somente pela idade da vítima mas por sua fragilidade e vulnerabilidade diante do agressor, a polêmica gerada antes e depois do abortamento marcou o episódio, que ficou conhecido na imprensa como Caso Alagoinha.
Tudo começou com os protestos de dom José Cardoso Sobrinho, na época arcebispo de Olinda e Recife, que defendia ardorosamente a continuidade da gravidez. Vencido pela realização do aborto legal, o arcebispo classificou o ato como “crime grave”, excomungando a equipe médica, integrantes de ONGs feministas e até a mãe da menina por ter apoiado a interrupção da gravidez da filha de nove anos. Paula Viana, integrante do grupo Curumim e uma das pessoas excomungadas por Sobrinho, destaca que, embora o aborto tenha sido por fim realizado, “houve negação ao direito legal, dificuldade de acesso ao que já era previsto em lei, além de grande desrespeito à criança e sua mãe.”
Um caso semelhante ocorrido há cerca de 15 anos foi lembrado por Carmen Athayde, a coordenadora do Instituto Municipal da Mulher Fernando Magalhães, no Rio de Janeiro. Uma menina de Sapucaia, interior do Rio de Janeiro, chegou ao Fernando Magalhães grávida aos 11 anos de idade. Tinha sido estuprada por um desconhecido na zona rural onde vivia. “Um juiz na época, me ligou pessoalmente, dizendo que estava encaminhando. Era miudinha a garota, não dava pra acreditar que carregava outra criança no ventre”, diz Carmen.
Na época, um grupo “pró-vida” (contra o aborto) se alojou na porta principal do hospital. Carregava consigo faixas de protesto, pedindo que a vida do feto fosse poupada. Carmen também recebia diariamente “meia dúzia de mensagens enviadas por fax” de um padre de Anápolis (GO), Luiz Carlos Lodi da Cruz. “Ele mandava fax imensos. Pedi para desligar o aparelho, porque nem de madrugada ele parava. Dizia que ia excomungar todo mundo aqui.”
O desfecho foi ainda mais trágico do que no caso de Alagoinha. Ninguém foi excomungado, mas os representantes pró-vida conseguiram convencer os pais e responsáveis legais da menina a desistir do aborto. “Prometeram tudo pra família da menina. Até enxoval. E nisso, os pais amedrontados, pessoas muito simples, abriram mão do abortamento. Recuaram. Do outro lado, o juiz conversando comigo e dizendo: ‘precisamos fazer esse aborto’”, relata a coordenadora. Tempos depois, a equipe do Fernando Magalhães soube que o bebê tinha nascido e que em poucos meses a mesma menina estava grávida do segundo filho.
Os dois casos demonstram até que ponto a religião tem força para barrar o serviço de aborto legal em um país laico como o Brasil, ganhando adeptos e alianças também no Congresso como registra outro estudo: o Mapa do Fundamentalismo no Congresso Nacional, criado pelo Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o CFEMEA.
Assinado por Juliano Alessander e Kauara Rodrigues, e publicado em julho de 2013, o mapa aponta proposições legislativas em curso com o objeto de criminalizar qualquer tipo de aborto. A PL 5.069/2013, de autoria do deputado Eduardo Cunha (PMDB/RJ), “tipifica crime contra a vida o anúncio de meio abortivo e prevê penas específicas a quem induz a gestante à pratica do aborto”; já a PDC 42/2007, do deputado Henrique Afonso (PV/AC), pretende sustar a Norma Técnica de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual Contra Mulheres e Adolescentes, e propõe que a vítima de estupro seja obrigada a ter o filho de seu agressor. Outra iniciativa citada pela ONG é a CPI do Aborto (RCP 21/2013), requerida pelos deputados João Campos (PSDB-GO) e Salvador Zimabaldi (PDT/SP), que conta com 178 assinaturas para “investigar a existência de interesses e financiamentos internacionais para promover a legalização do aborto no Brasil”.
E há muitas outras propostas no mesmo sentido: segundo o levantamento da ONG, dentre as 34 proposições no tema aborto, 31 sugerem retrocessos graves à legislação em curso como transformar a interrupção da gestação em crime hediondo e acabar com a distribuição da pílula do dia seguinte. A socióloga Jolúzia Batista, assessora do CFEMEA, lembra ainda o famigerado Estatuto do Nascituro, aprovado em 5 de junho de 2013 na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Em seus 29 artigos, privilegia e garante direitos do feto desde a concepção, em detrimento dos direitos da mulher. Com a premissa de que “o nascituro goza da expectativa do direito à vida, à integridade física, à honra, à imagem e de todos os demais direitos da personalidade” e penalizando com 6 meses a 1 ano de cadeia quem fizer publicamente “apologia do aborto ou de quem o praticou”, o texto praticamente inviabiliza qualquer discussão sobre aborto no Brasil. O Estatuto, que ficou conhecido como Bolsa Estupro, prevê ainda o pagamento de pensão pelo Estado para crianças concebidas através de violência sexua, caso do pai – o estuprador – não puder arcar com ela ou não for identificado.
“A vida, desde a concepção, é válida e justa para todo religioso. Quanto mais ‘almas’ puderem salvar, melhor. Esse é nosso principal desafio, lidar com esse tipo de pensamento das pessoas. O que acontece no serviço de atenção à saúde é justamente isso, e claro, se arrasta pelo poder público”, explica Jolúzia.
Quando o serviço de aborto legal no Hospital Jabaquara começou, na década de 1980, era comum que os profissionais fossem hostilizados. Irotilde Pereira Gonçalves conta que sofreu uma série de retaliações por parte de fundamentalistas religiosos. “Era comum ser chamada de aborteira. Jogavam ovos e pichavam minha casa. E era preciso manter a identidade dos profissionais em sigilo. A ideia era justamente evitar esses ataques.”
Quanto menor a cidade, mais exposto o profissional se sente, diz Irotilde. “Ele tem medo de ser taxado de aborteiro no lugar e virar alvo dos fundamentalistas.” O que faz com que muitos médicos peçam autorização judicial para fazer o aborto, embora haja garantia legal para o procedimento, ela diz.
Entre o dever e o temor
A recusa dos profissionais de saúde de realizar o procedimento em vítimas de violência sexual tem se mostrado um entrave concreto no acesso ao aborto legal, já que é mais comum do que se imagina, de acordo com Aparecida Gonçalves, secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Segundo ela, a grande maioria dos médicos que atuam no serviço de aborto previsto em lei apela para a objeção de consciência para se negar a realizar o abortamento. E acrescenta: “Tenho a dizer o que todo mundo diz: é lastimável. Lamentamos que os nossos médicos tenham esse nível de consciência.”
Mas como o poder público pode tentar driblar esse entrave? “Nós, do governo federal, não podemos alterar o código de ética de uma categoria. Trabalhamos com a universalização do serviço. É direito da mulher, há uma legislação que autoriza, então os hospitais que estão no sistema único de saúde têm que trabalhar. A instituição não pode ter objeção de consciência”, responde Aparecida Gonçalves.
A advogada Beatriz Galli explica que a objeção de consciência pode ser explícita, “quando se traduz na forma de recusa em prestar o atendimento”, mas também implícita, “na forma de demora ou negligência na atenção”. O IPAS Brasil, ONG em que Galli é assessora de políticas para a América Latina, realizou uma pesquisa em 2006 em um hospital localizado na região sudeste da cidade do Rio de Janeiro e constatou que de 40 profissionais, só dois realizavam o aborto. “Um era o chefe da equipe, e o outro era uma médica. No entanto, na falta deles, não tinha quem fizesse”, detalha.
O Ministério da Saúde, através da Norma Técnica Atenção Humanizada ao Abortamento, determina que não cabe a alegação de objeção de consciência pelos serviços de referência nos casos de “necessidade de abortamento por risco de vida para a mulher; em qualquer situação de abortamento juridicamente permitido (por meio de autorização judicial), na ausência de outro médico que o faça e quando houver risco de a mulher sofrer danos ou agravos à saúde em razão da omissão do médico e no atendimento de complicações derivadas de abortamento inseguro, por se tratarem de casos de urgência.”
Como o abortamento em caso de gravidez resultante de estupro dispensa autorização judicial, os médicos continuam alegando a objeção de consciência para não realizá-lo. Mas o pronto-atendimento à mulher não pode ser negado, e o Estado e gestores de saúde têm o dever de manter profissionais que não manifestem esse tipo de objeção nos hospitais públicos e centros de referência.
“O que a gente não pode é deixar que os médicos resolvam isso sozinhos. A gente coloca hoje sobre os ombros dos médicos aquilo que é responsabilidade de organização do estado. O médico não é responsável por organizar esse atendimento; é o estado e o município que têm a obrigação de garantir que se façam concursos para que se tenham médicos trabalhando naquele sistema. É simples assim”, defende Jefferson Drezett.
Por outro lado, diz Drezett, nem sempre o médico tem o direito de se recusar a realizar o procedimento alegando objeção de consciência: “Existem alguns limites legais e éticos. O primeiro limite é se não existe outro profissional para atender o paciente. Se você está em uma região em que você é o único médico presente, o direito do seu paciente se sobrepõe ao seu, então, você não pode negar. Se você negar, vai receber consequências legais. Também não cabe a alegação em casos de urgência e emergência. E não cabe a objeção de consciência quando a recusa do médico causar ou colocar a mulher em condição de risco”, lembra.
Em muitos casos o abortamento só é realizado com boletim de ocorrência ou/e laudo do IML, contrariando a norma Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes que estabelece: “a exigência de apresentação destes documentos para atendimento nos serviços de saúde é incorreta e ilegal”. Depois dessa norma, publicada em 2007, hospitais como o Fernando Magalhães deixaram de exigir o boletim de ocorrência o faziam até 2006, segundo Carmen Athayde.
Diretora de Ações Afirmativas em Direitos e Saúde do Ipas Brasil, Leila Adesse capacita há mais de 20 anos profissionais que trabalham no serviço de aborto legal na rede pública de saúde de todo o Brasil. Segundo ela, os profissionais dos serviços vivem um paradoxo entre tornar visível a existência desses serviços e um “receio de banalização da demanda”. “Eles têm medo de casos não confiáveis. Desconfiam quando contam apenas com a palavra da mulher”, diz Leila.
Para Beatriz Galli, o fato de termos uma lei restritiva em relação ao aborto – a prática ainda consta no código penal como crime contra a vida – contribui para o receio dos profissionais da saúde. “Existe um desconhecimento dos profissionais na questão da interpretação deste marco legal. Existem tabus, como o de que a mulher pode mentir para se favorecer, e o médico pode ser cúmplice disso. O aborto é muito estigmatizado.”
“A falta de divulgação do serviço é um desserviço”
Para a maioria das pessoas ligadas ao serviço de aborto legal ouvidas nesta reportagem esse desconhecimento continua sendo um dos grandes obstáculos para o exercício desse direito. Como resume a advogada Beatriz Galli a “falta de divulgação do serviço é um desserviço. O aborto é uma questão tensa pra mulher, o menor entrave pode ser motivo de desistência.”
“A falta de informação não é somente das mulheres, é ainda dos profissionais de saúde, do porteiro ao médico”, completa a diretora do Hospital Fernando Magalhães, Carmem Athayde. “Não lembro de nenhuma campanha sobre violência sexual. Violência doméstica, sim.”
A secretária nacional de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres da Secretaria da Política para Mulheres, Aparecida Gonçalves, admite que há um problema de divulgação em nível nacional, e o atribui, em parte, à instabilidade do serviço. “A gente tem durante um mês um hospital que atende, um mês depois, ele já não atende mais. Não tem divulgação, mas ter divulgação errada pode ser pior”, afirma. Ela também diz que a veiculação de informações sobre o tema não está a cargo da SPM, nem de qualquer órgão do governo federal.
“O serviço é de responsabilidade dos estados e dos municípios. Quando digo que a saúde é descentralizada, significa que são eles que têm a responsabilidade de divulgar o UPA (Unidade de Pronto Atendimento), a Santa Casa, os hospitais que estão credenciados para realizar o aborto legal”, diz.
Mas nem mesmo o 180, número da Central de Atendimento à Mulher, funciona, como constatamos ao telefonar para o serviço criado pela SPM com o objetivo de “disponibilizar um espaço para que a população brasileira, principalmente as mulheres, possa se manifestar acerca da violência de gênero, em suas diversas formas.” Ligamos ao menos sete vezes para o número e em nenhuma delas foram informados os endereços de hospitais de referência. Em apenas uma das tentativas foi dito claramente que a vítima tinha direito a interromper a gravidez; nas demais, a recomendação foi de procurar um serviço de emergência. Em um dos casos, foi sugerido iniciar o pré-natal!
Como diz a historiadora Fabiana Paranhos, pesquisadora da ANIS, “o problema não está só nos hospitais que fazem o procedimento, mas na rede toda. Todos os postos de saúde, ou delegacias, que não sabem encaminhar, ou não querem.”
Começando pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), frequentemente o primeiro local para onde se encaminham as vítimas após o ato de violência, como diz a secretária Aparecida Gonçalves. Segundo ela, as delegacias especializadas foram pensadas, na década de 80, para ser o “top do top”, mas “o que tem acontecido, é que elas têm sido, dentro da segurança pública, relegadas”. Ela explica: “Na maioria das vezes, os profissionais que vão pra essas delegacias são os que não deram certo em nenhuma outra delegacia e vão, como castigo, para a delegacia da mulher. A questão é: se eles estão lá por castigo, não vão dar um bom atendimento, com qualidade”.
“Você deveria pensar duas vezes antes de vir aqui”, diz o policial
Em janeiro de 2011 G., na época com 29 anos, veio visitar a família em Recife, sua cidade natal, depois de dois anos vivendo na Alemanha. Em uma noite de sábado de “lua linda”, lembra, ela foi estuprada em uma ruela a “quatro quarteirões de casa”. Nunca tinha visto o agressor antes, e hoje, quando conta sua história, jura que não lembra nem ao menos a cor de sua pele, altura ou roupa que vestia. “Bloqueei tudo. Eu só sei que foi um vulto, um vulto de gente que me agrediu por um tempo que também não consigo ter noção.”
Depois do estupro, ela conta que se sentiu culpada por estar no lugar errado, na hora errada, com o comprimento de short errado, e ficou quieta. Foram umas duas semanas até ter coragem de conversar com uma amiga, que a orientou procurar uma delegacia, registrar um boletim de ocorrência, e em seguida ir atrás de um hospital para realizar os exames necessários. O medo, a vergonha e a culpa foram mais fortes de novo e G. ficou paralisada em casa por mais duas semanas. Finalmente foi até a farmácia mais próxima e comprou um teste de gravidez que para seu desespero deu positivo.
Finalmente correu até uma delegacia e ‘“tremendo da cabeça aos pés”contou sua história. Mas o policial que a atendeu, disse: “Você devia pensar duas vezes antes de vir aqui buscar um B.O. pra tirar um filho. Ninguém vai registrar nada aqui se sua intenção é matar uma vida”. Completamente vulnerável, só encontrou apoio quando voltou para a Alemanha, e onde realizou o aborto na rede de saúde pública.
Um caso que está longe de ser exceção como constatou a pesquisa do CEMICAMP, de Campinas, que entrevistou 419 delegados titulares ou responsáveis por Delegacias da Mulher entre setembro de 2010 e abril de 2011. “As DEAMs em todo o país ainda apresentam limitações importantes para poder dar atendimento adequado às mulheres que sofrem violência sexual”, constatou o estudo. Entre essas limitações está a falta de pessoal treinado para dar o acolhimento necessário em 80% das delegacias. Para 70% dos entrevistados, esse é o maior entrave para um atendimento adequado. Por fim, conclui o estudo, “as DEAMs não estão cumprindo plenamente o papel que se lhes atribui em defesa dos direitos e da segurança das mulheres”. Para isso, “teria que ser feito um importante investimento em treinamento e motivação desse pessoal e verificando se há necessidades de complementação ou adaptação dos locais onde funcionam.”
Como mostram os casos de G. maltratada na delegacia e o de A. abandonada pelo atendimento do hospital, falta muito para que as mulheres brasileiras realizem o direito adquirido por lei de abortar ao menos quando são estupradas. Uma questão que está longe de ser individual, como destaca a pioneira Irotilde Pereira, do Hospital Jabaquara.
“Todas as mulheres estão sujeitas a sofrer violência sexual. Não importa a classe, nível social, a cor da pele, o nível cultural. É difícil para a mulher aceitar ter um filho de uma pessoa que ela não conhece, que ela não autorizou mexer no seu corpo, e concebido em um ato extremamente violento. Porque eles [os estupradores] agridem, batem, machucam muito. Trata-se de uma questão de direitos humanos importante para toda a sociedade”, diz.
O preço da negligência, ressalta, tem sido a vida de milhares de mulheres que não encontram outra alternativa a não ser se juntar àquelas que recorrem a métodos clandestinos, que matam uma brasileira a cada dois dias. “Em sã consciência, ninguém é favor do aborto. Seria melhor que não existisse estupro, que não existisse aborto. Mas o aborto é um dado de realidade”, argumenta Irotilde. Para ela, o que mata não é o aborto. É a falta de atendimento.
Nova portaria
No último dia 22 de maio, o Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União portaria que entre outras determinações inclui na tabela do SUS o serviço do aborto legal. A resolução – um complemento à lei 12.845 – estipula que, a cada gravidez interrompida, o governo deve repassar aos hospitais R$ 443,00. Não há alteração nas situações em que o aborto é legalmente permitido: risco de vida, estupro, anencefalia fetal.
A advogada Beatriz Galli se diz otimista em relação à portaria, uma “vitória para os direitos reprodutivos das mulheres brasileiras”, diz. “Agora fica bastante claro quais são as hipóteses em que as mulheres têm direito ao procedimento, acabando de vez com a polêmica de que a mulher precisa de autorização judicial”, explica.
O procedimento, denominado “Interrupção da gestação/Antecipação terapêutica do parto previstas em lei”, engloba, além do abortamento pelo método medicamentoso, curetagem e esvaziamento manual intrauterino (AMIU), a oferta de anticoncepção, realização de profilaxias e exames, notificação de violência sexual, acolhimento, consultas de retorno e guarda de material genético (quando couber), entre outros. Determina, também, que o atendimento seja efetuado de acordo com as Normas Técnicas já criadas pelo MS.